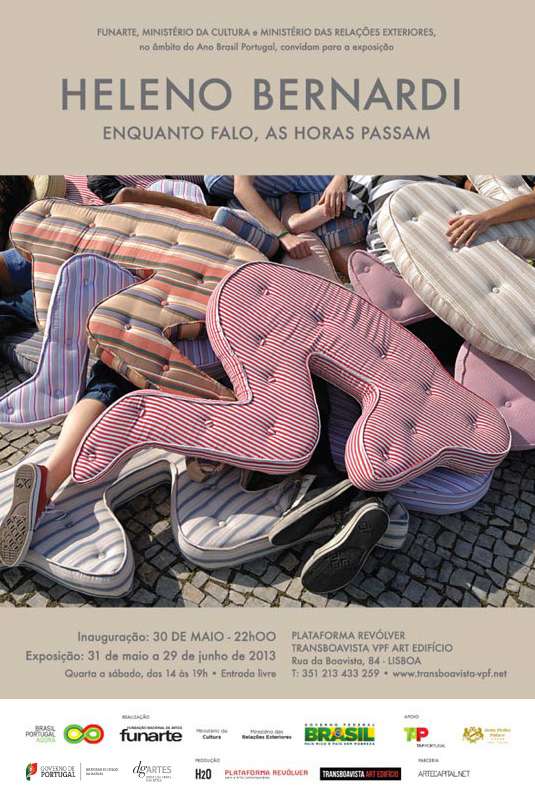Ana Filipa Garcia, Anabela Bravo, Conceição Abreu, Fernando Fadigas, Filipa Cordeiro, Luísa Baeta, Paula Nobre, Sandra Henriques, Teresa Cortez
Curadoria victor pinto da fonseca e pedro cabral santo
6749/010.013
O título escolhido para a exposição recupera o código de uma contingência que juntou nove artistas num tempo e num lugar, voltando a juntá-los na contingência de outro tempo e outro lugar. Ainda que nada esclareça sobre os enigmas trazidos por cada autor a esta exposição, o código é um sistema convencionado de sinais reconhecíveis e por isso define, como propõe Roman Jakobson, o sistema em que eles se revelam e o título anuncia.
O primeiro tempo corresponde aos anos lectivos de 2010 a 2013 (010.013) e o primeiro lugar é a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, mais concretamente o Mestrado de Arte Multimédia da mesma faculdade (6749). O segundo tempo é o tempo da exposição destes nove artistas, agora Mestres, que concluíram com sucesso as suas investigações teórico-artísticas, sendo o segundo lugar a Plataforma Revólver que, pela segunda vez e no que à faculdade diz respeito, acolhe um projecto desta natureza.
A Era dos Falsos Profetas, de Filipa Cordeiro, é o título de um conjunto de peças realizadas por diversos processos de apropriação, entre 2010 e 2012, no que a autora designa por uma expedição arqueológica à banalidade de um quotidiano imobilizado na sua contínua e aparente mudança, onde o nada acontece como não-acontecimento nas localidades colonizadas (deslocalizadas) pela cultura global.
É na procura dos indícios das origens sem história, mas antropologicamente significantes, que a artista se torna arqueóloga, ser da linguagem que só nela existe para reorganizar os fragmentos do mundo – as suas ficções – ficcionando-o a partir de uma subjectividade (a sua) que o integra e lhe imprime a estranheza no que lhe é familiar. Nessas sucessivas operações de (re-)significação, o movimento é o da deslocalização das imagens e das palavras que pairam sem aqui e sem agora, significantes flutuantes, como os entendeu Lévi-Strauss, à procura de um lugar, i.e., de uma significação.
Mas, tal como as que a antecedem ou que com ela coexistem, essa significação, voluntariamente posta em causa enquanto verdade ou milagre convencionalmente operados pelas práticas artísticas, é ainda ironizada na frase que intitula o conjunto de peças presentes na exposição. A Era dos Falsos Profetas é fundamentalmente um convite ao abandono das falsas profecias que sustentam o estado do mundo e um convite à errância pela dimensão poética da sua banalidade.
Nas Asas de um Colibri intitula o vídeo de Ana Filipa Garcia, construído a partir de um filme caseiro, em Super 8, do casamento dos pais e das espectativas mantidas pela sua invisibilidade no tempo assombrado do presente.
Dividido em três capítulos, o vídeo associa a nitidez do que se pretende fetiche à indeterminação do que só pode aparecer como fantasmagoria e que nada mais é do que a própria realidade. É assim que o desenrolar da película de uma bobina acompanhado pela cadência do bater de um coração, que é afinal o som produzido pelo projector a trabalhar, convive com a imagem impossível do casamento que é o que na imagem não se mostra, ou o que ela não mostra, o para-além-de-si, o que a afasta de si para que ela possa ser o que é, a différance teorizada por Jacques Derrida que, neste vídeo, se manifesta nos espectadores que assistem às imagens ausentes e em todas as perdas a que elas aludem, apenas pressentidas na sua errância sempre temporariamente alojada numa significação provisória.
Se dar a ver o que não se vê é o primeiro desígnio da imagem, a invisibilidade e a ausência são o que ela encena também na soturnidade do voo onírico que acontece entre a casa e a impermanência dos lugares imaginados e de novo a volta a casa por ser ela que abriga o devaneio, nos termos de Bachelard, e é a ela que se volta para revisitar a dimensão onírica do que aí permanece, feita de lembranças e desejos, fantasmas e fantasias.
Estar entre é estar em movimento, não seguir com os olhos o voo do colibri mas ser o colibri que voa, esse pássaro da fantasia, cujas asas batem tão rapidamente que deixam de se ver, mantendo-o parado no ar ou deslocando-o a uma velocidade imperceptível que o torna invisível no seu voo. É ele que Ana Filipa Garcia usa como metáfora num filme que conta a história de uma história e o que a elas falta para poder ser contada como a história a que assistimos.
Numa discreta ressonância do poema homónimo de Sá-Carneiro, Teresa Cortez escolheu Quase para título da sua peça site-specific, uma interminável animação instalada no espaço a que se propaga fazendo com que entrar no espaço implique estar dentro do desenho ouvindo-o a fazer-se no som do lápis que risca sobre a textura das paredes.
‘Quase’ é sempre presente e o presente é o tempo de uma obra que imperceptivelmente se renova perante os nossos olhos incapazes de reconstituir um princípio e um fim, reféns de um entretanto que é o infinito do presente e o infinito do espaço que o movimento vai criando em cada traço, como é próprio do rizoma, tal como o definiram Deleuze e Guattari.
Nesse sentido, o espaço é tanto o desenho em movimento como o movimento que o desenho lhe imprime em todas as direcções, animando-o (entretanto) num ritmo de ruídos gráficos que o som amplifica no intervalo entre as imagens (entre-tanto). Ser presente é assim entrar no infinito da imagem que se anima (um organismo quase), fazendo parte do movimento (da renovação) que ele imprime ao espaço. E se entretanto a imagem é a segunda pele da parede, é pelo intervalo entre-tanto que o observador se esgueira para ser presente ao acto da sua unificação.
«Quase o princípio e o fim – quase a expansão …» é um verso do poema de Sá-Carneiro que Teresa Cortez utiliza como epígrafe de um dos capítulos da sua dissertação. Tão relevantes como o que enunciam são as reticências que ligam todos os versos deste poema, ou os de Walt Whitman, que a autora também convoca no seu trabalho. Porque neste contexto elas são simultaneamente a marca do infinito do sentido como o sinal gráfico de tudo o que fica por dizer.
Sem Pés nem Cabeça e Corpo de Imagem são as duas peças que Sandra Henriques selecionou de um imenso conjunto de Experiências genericamente intitulado A Árvore dos Estapafúrdios, numa reminiscência da série televisiva que via na sua infância.
No argumento destas peças, um vídeo e duas fotografias impressas em papel vegetal, a existência de um corpo é entendida como uma passagem à qual um ininterrupto movimento imprime três estádios: formação, transformação e destruição. Mas o próprio corpo é aqui considerado como uma pele, sendo a pele um corpo de imagem que existe na estratificação das suas imagens. Quando, no processo de transformação, as imagens são excessivas, o corpo fica exposto a um processo de entropia que o desestratifica até ele se converter, por um máximo de acumulação, num sem corpo – matéria indiferenciada, desclassificada, informe, como Bataille a denomina, inominável, nas palavras de Beckett, para referir a turbulência que impede a correspondência entre um significante e um corpo, pondo em causa todos os nomes e fazendo-nos duvidar da existência de todos os corpos.
Imprevisibilidade, descontrolo, entropia e excesso são os quatro conceitos que operacionalizam estas peças nas quais o corpo, tendendo para a desordem do que não tem nome ou forma, se dilui na sua matéria / imagem. Um sem corpo, Sem Pés nem Cabeça, onde as imagens, no tempo de um frame, desfilam à velocidade de 25 frames por segundo ou, como acontece em Corpo de Imagem, um corpo esmagado de um lagarto, de um pombo ou de pimentos assados, que permanece suspenso e remendado nas várias imagens que o reconstituem, dificilmente reconhecível, quase desclassificado, quase inominável.
Janela I e Rio são duas das quatro peças que Luísa Baeta realizou no âmbito do mestrado, às quais deu o título genérico Long Piece para se interrogar sobre o que é longo no tempo de uma imagem.
O lugar é uma casa de família e um rio, filmados ao longo de dois anos. A interrogação estrutura-se em torno das operações sobre a imagem (vídeo e fotografia) e do tempo que ela cria, que é o tempo da memória, o tempo de um momento que lhe é irredutível por ser fundamentalmente o conjunto de sensações que provoca no observador. A partir das três figuras do esquecimento enunciadas por Marc Augé: o retorno (neste caso, a um lugar), a suspensão (do tempo contido nos planos do vídeo e nas fotografias, mas também o tempo das gerações numa família) e o recomeço (da relação com o lugar e a sua imagem), Luísa Baeta faz do tempo um palimpsesto de espaços e do tempo longo um tempo sintético onde a extensão do espaço se transforma em densidade temporal, por sua vez alongada na espacialidade da imagem actualizada no tempo em que nos convoca.
O tempo tanto é o da fotografia que surge como um intruso na extensão da imagem vídeo e na cadência da sua repetição, como é uma subtil mudança nesta imagem, quase sempre surpreendida tarde demais. É o tempo real, o tempo das horas do dia e da sua acção sobre a paisagem e os lugares, o tempo vivido da contemplação, eliminadas que são as razões da velocidade e da acção, o tempo interminável.
A imagem é esquecimento do tempo que passa para poder ser recordação do tempo que foi e nela está contido. E é preciso fechar os olhos para continuar a vê-la, para fugir à cegueira do que se olha insistentemente e se deixa de ver, como acontece em Janela I.
Símbolo da passagem do tempo, o rio não consente que nos banhemos duas vezes nas mesmas águas. Mas no tempo de Rio, um tempo de águas paradas, a paisagem escondida pelo nevoeiro é a paisagem do tempo longo, a paisagem que se imagina ouvindo o som dos seus tempos e que subitamente emerge como uma aparição para a ele voltar imperceptivelmente, até começar tudo de novo.
Paula Nobre expõe um conjunto de fotografias de uma longa série produzida nos fins-de-semana ao longo de dezoito meses consecutivos, a que deu o título Lugares-comuns: a Fotografia como lugar de afectos.
Nesta obra, o artista é entendido como um semiólogo que aborda a questão do sentido dos sistemas sígnicos a partir do afecto subjacente às artes de fazer o quotidiano, como as designa Michel de Certeau. Neste caso, essas artes consubstanciam-se nas práticas culinárias de uma família, aqui aparecendo como definidoras de um retrato do pai e da mãe, absorvidos nos gestos rotineiros da preparação dos alimentos, e de um lugar, a casa, o lugar-comum, o lugar comum a todos os que a habitam, que é tanto o lugar da comunicação e da partilha (o lugar que torna comum), como o da Fotografia (o lugar dos afectos) e das fantasmagorias da imagem fotográfica (o lugar dos sentidos e das sensações que eles arrastam) mas, sobretudo, o lugar do inconsciente óptico a que a câmara nos conduz, de que fala Walter Benjamin, o lugar que vem para re-significar a experiência do quotidiano, revelando-o a partir do que o coração sente e os olhos não vêem, ou se vêem a visão é incapaz de processar.
Comum ao retrato e ao lugar na indiscernibilidade que os define – retrato e natureza-morta –, este lugar-comum é ainda o lugar da reduzida profundidade de campo e da ambiguidade do espaço abreviado no vestígio do gesto que o ocupou e onde os vestígios, para além das suas circunstâncias, resgatam para o plano dos sentidos e das sensações, agora do observador, os afectos de que é investido o quotidiano.
For life to go Exactly as Planned intitula o conjunto de peças que Anabela Bravo traz a esta exposição. Uma colecção de 610 dados, que teve início em Abril de 2011 sendo dada por terminada em Outubro de 2012, um catálogo concebido no formato de um dado cúbico que contém todos os outros, e um conjunto de 36 mapas obtidos por ligações de expressão linear tão arbitrárias como essenciais.
Cada um dos dados foi lançado sobre uma folha de papel com dois metros de altura por três metros de comprimento para que o mapa pudesse ser rigoroso. O lugar em que cada dado caiu foi marcado com a cota que lhe corresponde e a face que ficou virada para cima. Cada mapa é o resultado de uma selecção do mapa maior (por local de compra, por cor, pela forma das faces, pelo peso, pelo tamanho do lado maior, pelo tipo de material), num total de trinta e seis mapas (trinta e seis desenhos ou trinta e seis padrões), resultantes da ligação de cada ponto a todos os outros, segundo os princípios de conexão e heterogeneidade esclarecidos por Deleuze e Guattari no contexto da definição de rizoma.
É um desses mapas desenhado a grafite na parede que vemos agora, bem como a colecção, à qual foram apenas subtraídos os dados utilizados na construção do mapa, e o catálogo.
Acaso e jogo são os conceitos que tutelam esta obra, ambos convergentes num terceiro conceito – alea, proposto por Roger Caillois para designar o conjunto de jogos em que o poder de decisão do jogador é mínimo e o poder do acaso é máximo. No entendimento de uma produção artística que delega na experiência e no acaso os seus resultados, associando a colecção a um mapa ou a uma rede de informação que não a esgota, mesmo que caiba ao catálogo a função de a encerrar, no duplo sentido de terminar e conter, Anabela Bravo é o último termo da sua colecção, ela que é uma menina com uma líbido enorme que deseja apenas conquistar o mundo.
Partindo do pressuposto que um agradecimento é simultaneamente um acto de reconhecimento e de gratidão, em meu nome e em nome da faculdade, resta-me agradecer a este grupo de artistas, ao qual se juntam Conceição Abreu e Fernando Fadigas, a qualidade do trabalho que desenvolveram e, talvez mais importante que isso, a qualidade humana com que souberam habitar o código 6749/010.013.
Maria João Gamito