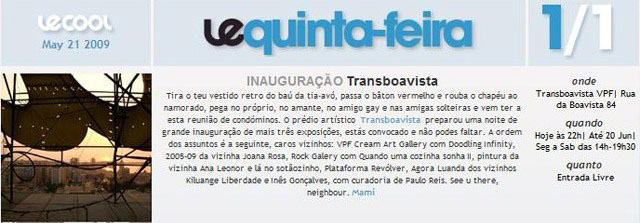
mai
jun
Algumas questões sobre o artista como um etnógrafo.
No ensaio titulado O artista enquanto etnógrafo, Foster propõe, de um modo seminal, uma cartografia e uma toponímia específica à arte contemporânea como se desta dependesse o retrato de nossa época no que os alemães chamam de zeitgeist. Neste livro referência para o debate artístico do fenómeno da pós-modernidade, o crítico elabora uma discussão sobre o lugar do artista contemporâneo como emissor de um discurso etnográfico, fruto da sua vivência e do contágio. Publicado anteriormente no catálogo de uma exposição este texto ainda permanece basilar para o entendimento da questão da alteridade, onde o artista torna-se o sujeito emissor do discurso etnográfico por excelência. Expondo os princípios da contradição económica e do objecto fetichista, Foster salienta que muitas obras contemporâneas despregam-se de modelos mencionados como absolutos e essenciais ao remeterem à cultura de massa. Verdadeiramente interessado na produção de arte como bem cultural – daí o seu discurso sobre os readymades duchampianos, no entanto o autor deixa antever um segundo aspecto neste seu discurso: também o lugar do artista como um observador atento à realidade. Ao produzir um discurso, esse artista também expõe as transformações sociais, as transformações políticas e as económicas com que transparecem nos actos e nas práticas quotidianas, ou aquilo que denominamos de práticas culturais.
Essas práticas culturais cada vez mais traduzem-se como práticas políticas de imensa relevância para o entendimento do artista como cidadão, como agente e testemunha destes processos, pois “na pós-modernização da economia global, a produção de riqueza tende cada vez mais ao que chamaremos de biopolítica, a produção da própria vida social, no qual o económico, o político e o cultural cada vez mais se sobrepõem e se completam um ao outro”. E é neste sentido que as imagens – os retratos e as paisagens – do povo angolano feitas por Inês Gonçalves e Kiluanje Liberdade denotam a sua enorme carga etnográfica e sociológica. As suas fotografias e filmes parecem admoestar o espectador: ok! são imagens cinematográficas na medida que os olhos captadores desta realidade movem-se no território da documentação urbana. Afinal, a fotografia e, sobretudo, o cinema documental são os lugares de excelência para uma antropologia cujo dever deontológico é o de revelar o fascinante acto de captar a realidade por trás das imagens.
Agora Luanda é um retrato de uma sociedade em transformação, onde as imagens de Inês Gonçalves e Kiluanje Liberdade funcionam como uma espécie de raio x sociocultural, e porque não, político de Angola na medida que nos deixa ver os benefícios e os malefícios que o capital opera numa sociedade pós-colonial, vitimada pelos anos de uma guerra perpetrada em nome do capital. O filme Luanda: a fábrica de música capta a realidade e a necessidade criativa do “faça você mesmo “ dos novos produtores e djs do Kuduro. Em estúdios precários, onde um velho gerador de energia alimenta computadores obsoletos, é feita a música que domina a noite luandense, e de onde é exportada para o mundo, causando furor nos lugares onde é tocada. Ou as imagens das fotografias captadas – em directo – nos bairros de lata. Fica-nos a dúvida: não seria toda Luanda um enorme bairro de lata, aqui e aqui, disfarçada de cidade? Sim, porque as imagens hiper-realistas de Roque Santeiro enchem nossos olhos a ponto de espraiar-se sobre uma outra Luanda, esta feita de novos bairros populacionais, onde circulam pajeros e land rovers dos novos mercenários capitalistas atraídos pelo diamante negro. Estes vivem em um ambiente falsamente sofisticado, cercados pelas grades que afastam os pobres para longe dos seus domínios. Um enclave de riqueza em meio a vasta terra de desolação.
Luanda é uma cidade que vive em luta feroz para desfazer-se desta dualidade: o da miséria desumana e da riqueza ignóbil, numa espécie de sístole e a diástole desta cidade, a funcionar como o coração de Angola. Um dos maiores encantos desta sociedade, provêm exactamente das zonas mais pobres, repletas de ruas poeirentas, é dali que germina a alegria desta gente que parece retirar beleza da necessidade e da precariedade. É, como diz a canção de Caetano e Gil, “a grande épica de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra e estimula”·. Estas populações – captadas pelas lentes sensíveis de Kiluanje Liberdade e Inês Gonçalves – tomam formas através do tempo e do espaço a que pertencem, i.e. da sua história, permitindo-se serem tomados pela dimensão antropológica da arte, num contexto humanista, trans-histórico e universal.
Em 1934, Leiris publicou o livro L’Afrique fantôme [A África Fantasma] onde documentava a sua participação numa viagem à África Ocidental e incorporava fotografias do próprio autor. O livro é um diário de viagem que coloca questões sobre o estudo de campo e os seus métodos, de tal forma que, à sua maneira, serve de prelúdio a elementos das ciências sociais críticas, que iriam aparecer anos mais tarde, com o nascimento do Pós-estruturalismo em França. A fotografia permite que toda a arte de todas as épocas e culturas possa ser reunida, comparada, tornada acessível a todas as pessoas, de tal modo que o próprio campo de estudo e os seus métodos se vêem transformados. A disponibilidade de reproduções fotográficas da arte de todas as épocas e culturas dá lugar ao museu-arquivo imaginário total, para a justaposição e a montagem simultânea da arte universal.
O que mudou da África fantasma de Leiris para a África viva – em especial Angola – de Kiluanje Liberdade e Inês Gonçalves? A imagem de uma sociedade em ruínas, diríamos, mas ainda envolta em contradições ao depararmos com imagens de raparigas que mimetizam o life style das grandes metrópoles mundiais, de rapazes que nos lembram os personagens pasolinianos, na sua condição existencial de perdidos nesta imensa urbe que os fagocita; de marginais e heróis de uma sociedade que necessita de suas energias, mas que também as repele. Ao titular este texto como algumas questões sobre o artista como um etnógrafo pretendia, antes de tudo, levantar questões sobre a imagem do ponto de vista ético-estético. Tentando entender a prática de alguns artistas que revelam-se etnógrafos, de forma intencional ou casuísta, que através de suas sensibilidades acabam por nos descortinar realidades alheias. Através de imagens captadas, às vezes, apenas pela sua qualidade estética acabam por revelar-se imagens políticas e de transformação de paradigmas. Agora Luanda é um laborioso exercício, formal e estético, também sociológico no entanto sem os vícios académicos ou de interpretações maniqueístas, que nos lembra do lugar que arte deve ocupar.
PS: Nunca fui a Angola, mas as fotografias e filmes de Kiluanje Liberdade e Inês Gonçalves reportam-me para a algazarra das feiras do Nordeste brasileiro, lugar de confluência e troca de experiência visual, olfactiva e sensorial, onde o Brasil é mais africano em sua génese. Cresci no ambiente muito próximo e, talvez, seja por isso que essas imagens parecem-me tão familiares.
PS: Este texto é dedicado ao pensador Michael Hardt e a coreógrafa Lia Rodrigues. O primeiro, numa conversa feita numa viagem pelas favelas numa abrasiva tarde carioca, fez-me perceber que o acto artístico nunca estará dissociado de um acto político. E a segunda, por me fazer acreditar ainda no valor supremo do compartilhar com que nada têm.
Paulo Reis
i- Foster, Hal, The return of the real: the avant-garde at the end of the century; Massachusetts: MIT, 1996.
ii- Idem.
iii- Endgame. Reference and Simulation in Recent Paiting and Sculpture: Instituto de Arte Contemporânea de Boston, 1986.
iv- Hardt, Michael e Negri, Antonio, Império, Rio de Janeiro: Record, 2001.
v- De modo incerto, repito o sentido de uma frase do escritor Mia Couto. Numa entrevista, disse “que a depressão é um luxo dos brancos e ricos, enquanto os pobres e negros são obrigados a tirarem beleza do seu sustento”.
vi- Jorge Ribalta, Arquivo Universal – a condição do documento e a utopia fotográfica moderna; – Barcelona: MACBA, e Lisboa: CCB, 2009.
Mai
Jun

Doodling Infinity, 2009, impressão a jacto de tinta sobre papel mate, 29x21,30 cm
Doodling Infinity
Existem pessoas, no seu dia-a-dia, a manipularem pequenos objectos, subconscientemente, “doodles” no mundo inteiro. Existem mesmo “actividades” universais tal como roer uma caneta, brincar no café com o pacotinho de açúcar vazio, partir um fósforo com os dentes, etc…
Os doodles são produzidos independentemente das suas nacionalidades, fronteiras geográficas ou sociais; são uma prática universal e extremamente subconsciente.
O facto de existirem como um acto compulsivo, atribui-lhes semelhantes qualidades à prática criativa do artista. No entanto, através dessa manipulação de objectos universais, existe uma obsessão, um certo sentido de reza, de aposta, de culpa, projectado no objecto num sentido universalmente intimista de homens, mulheres e sobretudo crianças.
No doodle não há compromisso entre mim e a arte, não produzo nada; no entanto ao apontar para a existência dos doodles, estou a interagir com eles roubando-os, etiquetando-os, fotografando-os e coleccionando-os; colecção esta que consiste em milhares de doodles tendo começado a coleccioná-los em 1982 na Slade School em Londres.
Joana rosa, 2009
Esta entrevista foi realizada à artista Joana Rosa por ocasião da exposição, Doodling Infinity, 2005-09, na VPF Cream Art Gallery, em Lisboa.
João Silvério: Olá Joana Rosa!
Joana Rosa: Olá João!
JS: Joana, esta exposição que vais fazer na VPF Cream Art Gallery é uma exposição em que regressas aos doodles ou os doodles mantêm-se como prática artística específica do teu trabalho, há muitos anos? A última exposição dos doodles foi em 2000, no CCB, com a exposição Initiare.
JR: Sim, em 2000.
JS: Podes explicar-nos melhor?
JR: Comecei os doodles em 1982 na Slade School of Art, em Londres. Fui coleccionando, recolhendo doodles na rua ao longo do tempo. Tenho milhões, internacionais, até e gostava de ter de outros continentes, do mundo, porque é uma coisa que todo o mundo faz. O tempo passou e eu acumulei uma tal quantidade de doodles e da mesma maneira que amadureci como pessoa e como artista, também os doodles amadureceram.
O que me fascinou é que eles não mudaram como objectos conotados com a Pop Art, ou a Arte Povera, ou conceptual, ou pós-moderna. Os doodles são uma coisa que se mantém e isso fascinou-me tanto que são algo universal com a qual eu me identifico bastante porque confio neles, bastante, são puros enquanto objectos, eu não posso dizer que sejam esculturas porque isso seria muito pretensioso.
JS: Mas porquê? Por seres escultora?
JR: Sou formada em escultura mas sou um bocadinho de tudo.
JS: Sim, eu sei.
JR: Mas é a forma de arte na qual eu confio mais.
JS: Na nossa conversa antes de começarmos a gravar a entrevista, dizias precisamente este ser um objecto mais puro, esse objecto mais puro tem a ver com o facto de te distanciares porque não assinas os doodles.
JR: Porque não são feitos por mim, eu apenas aponto para a sua existência.
JS: Mas esse apontamento tem uma marca pessoal que é uma marca que identifica; uma forma de fazer que é a etiqueta, ou seja, como tu classificas cada um deles, muitas vezes adicionando pequenos elementos que remetem para a memória do momento, ou para a história, ou para um elemento identificativo da pessoa que os manipulou.
JR: Sim, eles têm uma história subconsciente sobre cada indivíduo, as pessoas não dão por isso quando os fazem.
JR: Sim, não tem. A escultura formal tem uma história conceptualizada pelo artista.
JS: Sim, está integrada num processo histórico.
JR: Está integrada na história de arte, etc. E os doodles não, por isso é que as pessoas recusam dizer que os fizeram e eu fotografo-os, mostro-os, digo “olha tu fizeste isto” e as pessoas respondem “não me lembro nada de ter feito isto”.
JS: Porque é um acto subconsciente e irreflectido, pois não há consciência de estar a produzir um objecto determinado.
JR: Sim, mas no entanto ele reflecte totalmente o estado de espírito de cada pessoa, reflecte em que é que a pessoa está a pensar, ou a conversar, ou se está mais nervosa, torce o elástico à volta do dedo, com muita pressão ou se está calma, brinca com o lenço de assoar ou morde um fósforo, e por aí fora.
JS: Vais apresentar nesta exposição cerca de 120 imagens que são registos documentais, e os doodles não vão lá estar, de facto.
JR : Não.
JS: O que vai ser exposto são imagens trabalhadas por um fotógrafo.
JR: São.
JS: Portanto, há aqui uma outra intervenção, que é a intervenção do fotógrafo, que vai fotografá-los sobre fundo negro como se fossem objectos muito singulares.
JR: São.
JS: A palavra singular é uma palavra meia estranha, não é?
JR: É!
JS: Porque ninguém consegue perceber muito bem porque é singular. Neste caso é singular porquê?
JR: É singular porque as pessoas são únicas, cada pessoa é única e cada objecto é singular, de facto.
JS: Então cada doodle é irrepetível?
JR: Eles não são completamente sósias uns dos outros, mas há doodles universais! Partir um fósforo entre os dentes, brincar com o pacotinho de açúcar vazio no café, chupar e trincar uma caneta, etc.
JS: Ou seja, há acções universais com diferentes tipos de objectos no acto do doodling?
JR: E o facto de eles serem fotografados?
JR: Ah! Eu fiz a selecção.
JS: São fotografados como se fossem jóias, ou seja, não são fotografados em cima de uma mesa que seja reconhecível, não são fotografados na mão de alguém que os está a fazer, são fotografados isolados.
JR: São isolados e é por isso que o cenário por detrás dos doodles é incógnito e incolor.
JS: Por exemplo, a pessoa brinca com o papel mas deita fora.
JR: Sim.
JS: E tu recolhes do chão, ou recolhes de uma mesa de café?
JR: Eu espero. Com as crianças é diferente do que com os adultos. Eu peço-lhes para mos darem, explico-lhes porquê e elas sentem-se artistas…as crianças são as pessoas que fazem mais doodles, pois têm sempre algo escondido na mão que manipulam muito. Eu sou a detective.
JS: Como?
JR: O detective fica a observar os outros em sítios públicos até as pessoas abandonarem o seu doodle.
JS: Partilhar o tempo dos outros?
JR: Partilhar o tempo dos outros, observar as pessoas que estão a fazer doodles, em jardins, em escritórios, em escolas, em cafés, nos cabeleireiros. Esperar que as pessoas acabem de fazer as manipulações com os seus objectos para eu correr e buscá-los, porque para mim são ouro.
Esta exposição é uma selecção, recolho cerca de 4 ou 5 por dia, eu estou na rua das nove da manhã às seis da tarde. E é uma selecção porque eu tenho bastantes, eu nunca mostrarei os próprios objectos porque eles têm o aspecto de lixo, asqueroso, nojento, usado, com suor.
JS: De um desperdício, de um lixo?
JR: Um desperdício suado, com micróbios e tudo, com gripe! (risos).
JS: Quando recorres à fotografia, aliás, uma prática que tu já tinhas iniciado há muitos anos e que foi também utilizada como meio na exposição do CCB, os objectos nunca aparecem?
JR: Os objectos nunca são dados a conhecer, mas o universo a que eles pertencem.
JS: Privas-nos desse universo?
JR: Privo, mas não privo da história, porque tenho a etiqueta e a fascinante história de cada doodle.
JS: A etiqueta tem sempre muito poucas indicações.
Por exemplo, há pouco, quando víamos algumas fotografias, um deles referia-se a alguém que tinha mãos gordas, mas doces. Portanto, há alguma coisa que associas à figura, mas também ao carácter daquele que observas longamente.
JR: Claro que sim, porque as pessoas têm as suas personalidades e maneiras de estar, que são idênticas ao objecto.
Há algo que eu acho muito curioso: por exemplo, o artista é sempre – e refiro-me à pessoa que faz o doodle – muito parecido fisicamente com as suas esculturas, com os seus trabalhos e os doodles, com as pinturas. Por exemplo, o Giacometti fisicamente, é igual às suas esculturas.
JS: É semelhante.
JR: O Picasso é igual aos seus desenhos, o El Greco é igual às suas pinturas. As pessoas são parecidas, as pessoas projectam-se a si próprias, fisicamente na arte e também nos doodles, têm uma linguagem que representa o seu eu, a sua dimensão, a sua escala humana, projectam-se sobre os objectos, e eu observo muito isso nos doodles, porque os doodles são iguais ao aspecto que as pessoas têm e até ao feitio, á personalidade e ao estado de espírito. Porque eu também observo a maneira de estar de cada pessoa.
JS: Se fosse possível apresentar ou fotografar todos os doodles que recolheste até hoje, estarias a traçar um itinerário do comportamento humano, irreflectido, e não consciente de uma prática que tu vais transformando em cada momento que expões os doodles. Porque há um momento em que os doodles não aparecem, ficam guardados em caixotes, acumulados.
JR: Selecciono os que vão ser fotografados, os mais complexos. Eu tenho um grande conhecimento sobre pessoas desconhecidas porque passo horas a observá-las.
JS: Uma intimidade com o anónimo.
JR: Sim, enorme, enorme, eu gosto muito de observar pessoas desconhecidas, tentar adivinhar, investigar. Nas rugas dos velhos está chapado o seu feitio.
JS: Portanto, os doodles de certa forma vão recolhendo…
JR: Os segredos.
JS: Os traços espontâneos que são não conscientes para eles próprios mas que são para ti identificativos da sua personalidade?
JR: São, porque eles revelam segredos e eu fico a conhecê-las melhor, sem elas saberem. Também gosto de ouvir as conversas que têm (risos), pois projectam os seus assuntos para a forma como manipulam o objecto subconscientemente. E são transparentes, pois nem sabem que os estão a fazer. Estão nuas: é lindo ou feio.
JS: Mas mantêm-se quase como um segredo, porque essas pessoas são anónimas, desaparecem.
JR: Sim, eu não posso pôr-me na pele delas, eu não posso ter essa pretensão, há um limite muito forte, uma barreira. Os doodles existem apenas num espaço da vida das pessoas que os manipulam. Mas tenho, por vezes, mais do que um doodle da mesma pessoa.
JS: Isto agora vem um pouco fora do âmbito da entrevista, mas quando estavas a estudar em Londres, fizeste uma série de obras semelhantes ao trabalho dos teus colegas para um open studio, creio eu.
JR: Sim.
JS: Fizeste uma obra de cada um e assinas essas obras.
JR: Com a assinatura deles.
JS: Como se fosses cada um deles e praticamente só um.
JR: Sim e depois comecei a querer distanciar-me da arte assinada por mim, foi em 1981 e fiz aquilo que seria o próximo trabalho, o último trabalho ou o trabalho mais recente de cada colega meu e todos eles na apresentação aos tutores, no dia da apresentação dos trabalhos nos seus espaços de trabalhos perante os tutores, assumiram os trabalhos que eu fiz às escondidas, que eu assinei por eles, como sendo deles. Só um é que deu por isso, um pintor, porque eu não sei pintar e ele percebeu que não era o trabalho dele, de resto todos eles assumiram. Eram doze colegas meus, foi o estúdio inteiro. Ah! E os tutores gostaram, os tutores acharam que eram bons trabalhos!
JS: Coitado do pintor… (risos)
JR: Pois, coitado do pintor.
JS: Esse episódio traz outra coisa à conversa – que embora seja uma prática diferente do longo caminho que os doodles têm no teu trabalho – que é uma certa autonomia.
O distanciamento e a relação com a assinatura não aconteceu noutros trabalhos teus que são trabalhos com uma forte marca autoral, não é? Como no caso dos desenhos que tens produzido ao longo dos anos, como na exposição no Drawing Center. Trabalhámos juntos até e mostraste esses desenhos e depois na tua carreira, nas galerias nova-iorquinas com quem trabalhaste.
JR: Há uma certa cumplicidade. Para mim assinar o trabalho é não estar aberta ao mundo, gosto de arte invisível.
JS: Arte ou artistas invisíveis?
JR: Talvez. O divertido é que há pessoas que dizem não ter jeito para a arte, para desenhar, etc., e, no entanto, os doodles são esculturas com um “design” muito conceptual.
JS: Os doodles, para ti, são tão importantes que seria interessante, por exemplo, teres um confronto com alguém que também tivesse um tipo de recolha semelhante e que tivesse esse tipo de interesses ou não?
JR: Claro que sim. Trocar, enriquecer este campo, isso seria extraordinário!
Eu espero trabalhar com um antropólogo, no futuro, porque os doodles são pré-históricos, existem desde que o Homem existe: todos brincamos com objectos ou com o próprio corpo, com uma madeixa do cabelo, com as pestanas, com as mãos.
Mas há uma coisa que me interessa imenso, tanto nos desenhos que eu faço agora, como nos que deixei de fazer: é que estou sempre à procura da escala humana, como tive formação em Ballet, em body art, a escala humana é a coisa que mais me interessa. Nós projectamo-nos para o universo por uma questão de sobrevivência.
JS: Mas também há a performatividade do corpo.
JR: Exactamente.
JS: E a performatividade do corpo como objecto, quando esse objecto pode ser uma madeixa de cabelo como dizes.
JR: Pode.
JS: Como referiste uma vez que alguém, que agora não interessa quem, tinha o que nós aparentemente chamamos um tique.
JR: São performances subconscientes. E que são conceptuais em termos de arte.
JS: … que brincava com uma prega de roupa.
JS: Sim, da camisa, do casaco. Os tiques são mais conscientes, e no outro extremo encontram-se os bibelots, há pessoas que fazem doodles e levam para casa e tornam-se bibelots como o origami, mas os doodles são performances subconscientes, isso são.
JS: Quase inconscientes?
JR: Quase inconscientes. Há pessoas que me dizem que “eu não fiz isto”, há outras que mandam pelo correio os doodles que fizeram.
JS: Isso já é quase um acordo entre ti e a pessoa, e essa pessoa sabe que tu estás a reconhecer isso como um objecto do teu trabalho artístico, mas a posteriori.
JR: Claro. Eu própria faço os meus doodles sem dar por isso, eu tenho bastantes doodles. Faço com t-shirts Lacoste, com maços de cigarros SG Ultra Light (risos); tenho os meus próprios doodles, os meus scribblings, há pessoas que só fazem scribblings e não fazem doodles; depois há doodles que não se mexem, que não são manipuláveis, são como pedras, não se alteram como objectos. São acariciados, são bons para o stress.
JS: Sim, são manipuláveis mas não se alteram na sua forma, como a pedra.
JR: Como uma pedra ou um bocado de madeira, algo duro, muita gente tem doodles dentro dos bolsos, porque eu vejo os bolsos a mexerem.
JS: O que é muito interessante porque isso transforma o objecto numa espécie de fetiche?
JR: É um fetiche. Como as chaves do carro, brincar com os anéis preciosos.
JS: Um fetiche ou um hábito compulsivo?
JR: É uma reza. Associo mais isso a um terço, que é algo que não se altera, a pessoa está ali a agarrar, como a pedir qualquer coisa; ou as moedas nos bolsos dos casacos dos homens.
JS: Portanto, quando tu falas no terço, o doodle aparece como um objecto mágico.
JR: Mágico! E a pessoa faz desejos, a pessoa tem desejos, projecta os seus desejos. Também há aqueles objectos de plástico com gel lá dentro que se compram para aliviar o stress. Mas isso já é muito consciente.
JS: Quando dizes mágico queres dizer omo um objecto de fé?
JR: Sim, de fé. De querer, de desejar, de redenção, de uma cristandade ou de uma religião. Bom, há tantas religiões no mundo, não é? E ainda bem. São milhões de religiões e há tantos deuses. O dinheiro, as pessoas muitas vezes brincam com as moedas, fazem girar as moedas como se fossem piões. As pessoas têm moedas no bolso, sobretudo os homens, nos bolsos dos casacos, eu ouço as moedas, eu não as vejo, há doodles que eu só oiço, não vejo.
JS: Portanto, o que disseste transporta-nos agora para um campo um pouco mais obscuro?
JB: Bastante.
JS: Precisamente porque tu não os vês?
JR: É assustador.
JS: Assustador porquê?
JR: Parece um filme de terror, não percebo bem o que é que está lá, o que é que existe, que formas é que têm essas coisas. Eu oiço tilintar coisas, muito. Quando vou na rua com a minha caixinha para recolher os doodles, eu gostava de roubar essas coisas às pessoas mas não posso.
JS: Esses doodles são impossíveis de recolher.
JR: Impossíveis! Não posso andar a roubar as chaves das casas, dos carros (risos) era chato.
E quanto às crianças é que é um bocado chato porque aí eu tenho a sensação mesmo de as roubar porque são os melhores fazedores de doodles, têm sempre qualquer coisa na mão, uma bolinha, um lápis. Tenho muitos lápis roídos por crianças e por adolescentes na escola. Quando vou às escolas aparecem muitas canetas roídas, tenho grandes colecções de canetas, de bicos de canetas. Estas vão-se modernizando com os tempos, antigamente era tudo bics, bics, bics e agora as canetas têm a capacidade de ser dos objectos que têm mais conotação estética, porque evoluíram. Todos os objectos evoluíram, mas a moda das canetas, vai sendo cada vez mais moderna e são mais enfeitadas e mais cor-de-rosa fosforescente ou há mais diversidade. É como os anéis e os porta-chaves, o design vai evoluindo.
JS: Joana, diz-me uma coisa, tu assistes às sessões fotográficas onde os doodles são fotografados?
JR: Claro.
JS: Controlas?
JR: Tudo. Estou sempre em todo o lado.
JS: E a classificação, a longa classificação que tens feito ao longo de quase trinta anos?
JR: Sim, trinta anos.
JS: Essa classificação é feita sistematicamente ou de tempos a tempos?
JS: Todos os dias assim que eu chego a casa etiqueto e escrevo a história dos objectos às etiquetas, e ato-as aos objectos-doodles.
JS: Os doodles, de facto, trazem uma memória de todas essas pequenas anotações. As etiquetas têm uma área para escrever muito reduzida, portanto, sintetizas ao máximo um ou dois elementos característicos daquela pessoa, algumas conheces, outras não.
JR: Sim, porque eu quero dar margem para o público imaginar, acho que um artista não deve contar tudo. O artista tem o seu mundo interior e as pessoas também têm o seu mundo interior e eu não devo impor ou mostrar tudo. Mostro só o quanto basta e a pessoa imagina o resto, senão eu escrevia um texto, explicava tudo e nem mostrava o objecto.
JR: Sabes, eu escrevo imenso sobre os doodles, gosto imenso, é um mundo infinito, mantenho um diário que espero publicar no fim da minha vida.
JS: Eu tenho alguns desses textos. As exposições dos doodles são organizadas durante anos, meses.
JR: Eu vou escrevendo.
JS: Mas quando mostras os painéis compostos pelas séries de fotografias, elas são organizadas com alguma ordem? Ou a organização da montagem da exposição é aleatória?
JR: Por exemplo, nesta exposição, são doodles entre 2005 e 2009.
JS: É importante tornar isso claro para se compreender.
JR: Não são aleatórios, por exemplo, no CCB, eu mostrei doodles entre 1995 e 2000.
JS: Depois houve um intervalo grande.
JR: Sim, estive a recolher. Depois tenho datados desde 2000 até 2005, ainda não mostrados, e agora vou mostrar de 2005 a 2009.
JS: Como disseste antes, é uma selecção?
JR: São sempre selecções.
JS: Porque fazes uma recolha de quatro, cinco por dia.
JR: Sim, mas muitas vezes não recolho nenhum. Podem ser quatro ou cinco num dia e é com muita sorte, muitas vezes não recolho nem um mas observei-os e eles existiram mas as pessoas levam-nos para casa. Já me aconteceu ficar horas à espera que as pessoas os abandonassem, ao frio, à chuva e nada. Eu tenho de ficar à espera durante horas, dependendo da profissão de cada doodler. Acontece muito, fico a conhecer a pessoa através do tipo de manipulação, mais calma, mais stressada, mais intensa.
JS: E o doodler não sabe que é um doodler.
JR: Pois não. Mas eu sei.
JS: Alguém faz doodles com objectos grandes, com objectos a uma escala maior do que a da manipulação da mão?
JS: Se for na praia, por exemplo, podes brincar, isso é mais no scribbling, por exemplo, o scribbling é maior que o duddling. Podes brincar na areia, fazer desenhos grandes que não ultrapassam a tua escala normalmente, ou seja, não vais mais longe do que aquilo que a tua mão ou o teu braço alcança.
JS: Ou que o pé, ao desenhar um círculo na areia?
JR: Sim, exactamente, desenhar um semi-círculo com a ponta do dedo e o braço, tu não te levantas para ir acabar o scribbling, as pessoas não se mexem mais do que aquilo que é preciso para fazer os seus doodles ou os seus scribblings, não se levantam, não se sentam no chão para isso, quer dizer, não movem o corpo de propósito para fazer a manipulação de um scribble. As pessoas ficam quietas e fazem o que lhes dá jeito porque é uma coisa secreta, e é imediata e sobretudo confortável, os doodles são muito confortáveis de fazer. Bom, uma amiga minha estava com um desgosto de amor e ao desabafar comigo, estava completamente nervosa e esteve o tempo todo a enrolar um elástico à volta do dedo, de tal maneira que o dedo começou a ficar branco e roxo e doía-lhe, mas ela nem devia sentir a dor, porque estava a chorar e foi muito triste. Fiquei com o elástico. Tentei ajudá-la, mas há doodles que doem. Mas em geral são muito confortáveis de fazer. A pessoa que está a fazer o dooddle ou o scribble, não quer nada, quer simplesmente estar, quer existir, quer estar como lhe apetecer, à vontade, mas em geral são pessoas tímidas que fazem os doodles.
JS: Portanto, os doodles serão um longo mapeamento do ser humano.
JR: Sim longo, enorme, desde que o ser humano começou a existir, há mais de 50 mil anos em África. Desde os Khoisan, ou Bosquínamos, da tribo San que estão na origem do Homem. Sim, é um longo mapa.
JS: Joana, obrigado pela tua colaboração e pela tua disponibilidade.
JR: Obrigada, João Silvério.
Mai
Jun

BCVII, 2008, acrílico sobre tela, 50x60 cm
Bacteria Caerulea: a ficção da pintura quando a cor do feminino é azul
Amar uma imagem é sempre ilustrar um amor: amar uma imagem é encontrar sem o saber uma metáfora nova para um amor antigo.
Gaston Bachelard, A Água e os Sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria.
Em The War of the Worlds (1898), H. G. Wells descreve a invasão da Terra por máquinas de guerra que, depois de os homens se revelarem incapazes de as combater, acabam por ser destruídas por uma bactéria existente na atmosfera, à qual não são imunes. Quarenta anos mais tarde, e recorrendo ao mesmo argumento, Orson Wells utiliza uma estação de rádio para produzir uma realidade que provocou o pânico nos Estados Unidos. Invasão, contaminação, domínio, colonização são as variantes do único tema que a ficção científica soube inventar, sempre alimentada por um imaginário que faz depender a existência de outros mundos da inevitabilidade de seres em oposição, ou seja, de seres-objecto (ob-jectum), num longo desfile de mutantes, de alienígenas, de ciborgues, de máquinas, de vírus, de bactérias assassinas ou redentoras, tão ambivalentes como as gotas de sangue que se desprenderam da cabeça da Medusa, todos eles desejavelmente submissos, precários, sexualmente inexistentes, vencidos ou a vencer e cuja revolta, a existir, se conclui na auto-destruição.
Esta ficção, que fixa nos códigos da realidade a garantia da sua credibilidade, assenta na assunção de um duplo precário, um reflexo no espelho que se autonomiza do ser que o produz, como outrora os objectos se revoltaram contra os donos, tal como hoje, libertos da referência humana, se miniaturizam, reduzidos a presenças microscópicas que, no interior do corpo, chips, vírus ou bactérias, optimizam a sua performatividade e as dimensões da consciência que ajudam a expandir. Mesmo que, Lilliput de novo no mundo às avessas de Alice, o humano seja o intruso ou o duplo que, como Angelina Jolie, replica a exemplaridade virtual dos gestos de Lara Croft.
É este o argumento que, desde 1996, Ana Leonor está disposta a subverter no projecto BBB (Burned by Blue) a partir da revisão das relações entre dois seres: uma mulher e uma cozinha que encontram o seu alter-ego num corpo simbiótico. Ou, dito de outro modo, uma mulher que desde Platão é um lugar (habitáculo) e um lugar que desde sempre lhe foi destinado (a cozinha), que se instaura como seu duplo, remetendo, em circuito fechado, para a primeira função maternal, tão bem ilustrada nas gravuras que, nos séculos XVI e XVII, representam o mundo sob a forma de uma mulher que amamenta. Mulher ou cozinha, ambas acolhem e protegem, ambas são criaturas e não criadoras como atestam, quer a figura de Cinderela (ou dever-se-ia dizer Gata Borralheira?) que num canto da chaminé aguarda o seu príncipe encantado, quer toda a História da Arte, expressa no mito de Pigmalião, a definir as normas que, daí em diante, informarão a relação do pintor com a modelo. Porque a simbiose não salva a mulher da sua condição de modelo. Apenas transfere para um corpo outro esse princípio predador de uma admiração masculina que faz do corpo do outro o objecto modelo, ou seja, o objecto do desejo de um olhar que segrega. E é dessa curiosidade que é preciso salvar as cozinhas ou as mulheres que ficam azuis, numa segunda subversão que rejeita o rosa das aparências e elege o azul como cor emblemática da aparição de um feminino contaminado pelas bactérias produzidas por cozinhas (ou mulheres) abandonadas e pintadas de um determinado azul, uma vez que apenas esse azul permite a comunicabilidade imprescindível ao aparecimento do corpo simbiótico.
Embora designada caerulea, talvez por nascer do azul, a bactéria responsável pelo desencadear da simbiose é cinzenta («entre o cinzento quente e o azulado»), reservando nessa neutralidade a possibilidade de ser outra coisa, reduzida que está a um esqueleto que adia a decisão sobre a anatomia do corpo de que se constituirá a estrutura, tal como mantém em aberto duas possibilidades distintas de se reproduzir. O processo simbiótico começa por se manifestar como uma doença: com dúvidas e desorientações, com sintomas de refracção e perdas momentâneas dos sentidos, com cegueiras temporárias e com desdobramentos em que o ser se observa a ser coisa observada. Mas tudo termina quando este novo corpo decide que nenhuma das suas partes prevalecerá sobre a outra, o que implicaria o desaparecimento das duas.
Instalações, performances, vídeos, fotografias, desenhos, diagramas, conferências, têm sido os meios utilizados por Ana Leonor para divulgar o processo e os resultados do seu projecto. Pela primeira vez, cabe ao espelho demonstrar e à pintura evocar o que os meios até agora utilizados mostraram, no compromisso possível entre os enunciados de Jean Duvignaud e Susan Sontag.
O espelho é indissociável da História da Pintura: juiz da obra acabada, como queria Alberti, ou símbolo da visão exacta, como defendia Leonardo, o espelho é, com Narciso debruçado sobre o azul abissal do lago, a figura do mito inaugural da pintura. Mas é também Eco, a ninfa apaixonada que, depois de morta, foi condenada a repetir as últimas sílabas de todas as palavras, o que implicou para ela a impossibilidade de aceder à distância instaurada pela palavra. E é a bandeja que emoldurou, como uma imagem, a cabeça de S. João Baptista ou, no seu simétrico, o gelo do lago a emoldurar ainda a cabeça de Salomé prestes a desaparecer no abismo das águas. E está presente nas várias sugestões de contentores metálicos em que a Bacteria Caerulea é incapaz de se reproduzir. Porque no reflexo do espelho reside a sua própria incapacidade de fixar uma imagem e de definir um limite a partir do qual já nada pode continuar a viver. Por isso, o reflexo é uma imagem da morte, espelho ou pintura, a remeter para o duplo de Dorian Gray que enquanto retrato (enquanto imagem) revela a inevitabilidade da dissolução do corpo que lhe serviu de modelo e que, apenas depois da morte do modelo, pode voltar à sua condição de retrato.
Falemos então de pintura. «A união do desenho e da cor é necessária para produzir pintura tal como a união do homem e da mulher para gerar a humanidade; mas é necessário que o desenho conserve preponderância sobre a cor. Se assim não acontecer, a pintura encaminhar-se-á para a sua ruína; perder-se-á como a humanidade foi perdida por Eva». É assim que, em 1867, na sua Grammaire des Arts du dessin, Charles Blanc reflecte sobre a presença da cor na pintura. E se essa presença se reveste das características contraditórias atribuídas à mulher – tanto é qualquer coisa de acessório como a responsável pela perda da humanidade – nestas pinturas de Ana Leonor, a mulher é decididamente a própria pintura. Pela existência de uma pele que, como uma maquilhagem, ganha uma coloração azul, para a qual a única profilaxia aconselhada é a cor laranja que, de vez em quando, faz uma tímida aparição; pela decisão de transformar em retratos, as várias naturezas mortas (still life?) que prescindiram da morte dos seus modelos; e, fundamentalmente, porque tudo se resume à possibilidade de, mais importante do que ser vista, esta pintura dar a ver, ser teatro na mais radical etimologia do conceito, um teatro onde afinal a última etapa coincide com a serena passagem do azul ao preto, naquilo que constituirá a última subversão deste projecto: ser mulher e preta e poder dizer sem que ninguém ponha em causa a importância dessa revelação que «Há dias em que [a cozinha] parece uma menina pequena a fazer maluquices». Claro que o mesmo se pode dizer da pintura.
Maria João Gamito
Mar
Mai

Sobre estar presente. Algumas lacónicas e desordenadas palavras sobre O Concílio de Francisco Janes
O Concílio, instalação composta por três projecções de imagem e por diversos excertos sonoros (água, vento, fogo, o canto de um pássaro), é o projecto mais complexo e, não por acaso, mais extenso, no que ao tempo de preparação concerne, que Francisco Janes realizou até à data. Trata-se de um projecto exemplar do processo de trabalho do autor: está indelével e estruturalmente marcado pela ideia de experiência e, mais do que isso, pela vontade de materializar, de traduzir, de propiciar essa experiência ao espectador; desconstrói a ideia de linguagem e de disciplina em favor da de dispositivo; parte, como outros projectos da sua autoria, de um lugar específico, algures na Serra da Estrela, nascendo de longas caminhadas, de estadas solitárias, de um monólogo interior, num lugar cuja reverberação ecoa um tempo geológico e original. Nesse sentido, as suas peças têm uma qualidade de ambiente, são dispositivos que estão para além de uma ideia de instalação para se afirmarem como abertura para outro espaço, a um tempo, mais amplo, distante e preciso. O espaço do encontro entre fenómeno e consciência.
No curto espaço em que cabe esta apresentação, gostaria de isolar um facto suficientemente raro no nosso contexto para ser realçado, a vizinhança ou contiguidade, um encontro, entre trabalhos de autores e épocas diversas. Refiro-me ao filme “A manta vermelha” que dialoga, consciente ou não desse diálogo, como nenhuma outra peça o tinha feito até hoje na arte portuguesa, com esses “ovni” que são as experiências fílmicas de Ângelo de Sousa nos anos 70. Como naqueles, a câmara torna-se num dispositivo háptico que se abre aos sortilégios da realidade envolvente. Como um olho, somente menos avisado e menos perfeito, molda-se ao fenómeno conferindo-lhe qualidades próprias da percepção da imagem (cor, luz, difusão, temperatura), produzindo, como nos filmes de Ângelo, efeitos visuais de intenso fulgor pictórico.
Falar de encontro não seria mais apropriado que falar de cinema, no caso vertente. Antes de mais, encontro consigo próprio, que é aquilo que o trabalho do autor, fortemente ancorado numa atenção e num escrutínio constantes ao fluxo do pensamento e das sensações, essencialmente mapeia e regista. Espaço (e tempo) do cinema, no sentido de configurar uma experiência propriamente física e comunitária. Tudo o mais, que é o essencial, joga-se num constante movimento dialéctico entre ver e ouvir, pensar e estar, projectar e interiorizar, entre frio e calor, a névoa e a pedra, o fogo e a água, a imagem e a palavra.
Nuno Faria
Mar
Mai

…do subterrâneo, 2009, marcador e lápis de cor sobre papel, 29,5x20x5 cm
Há pequenas impressões finas como um cabelo e que, uma vez desfeitas na nossa mente, não sabemos aonde elas nos podem levar. Hibernam, por assim dizer nalgum circuito da memória e um dia saltam para fora, como se acabassem de ser recebidas. Só que, por efeito desse período de gestação profunda, alimentada ao calor do sangue e das aquisições da experiência temperada de cálcio e de ferro e de nitratos, elas aparecem já no estado adulto e prontas a procriar. Porque as memórias procriam como se fosse pessoas vivas.
Agustina Bessa-Luís, Antes do Degelo
O percurso artístico de Inez Teixeira é marcado por uma linha de pensamento que a artista tem seguido e explorado ininterruptamente com recurso à pintura e mais recentemente ao desenho. A ideia de caminho, de percurso intimista, solitário, silencioso num interior labiríntico onde a avanços áridos se contrapõem retrocessos férteis em direcção à génese da obra de arte, está presente na sua pintura desde os anos noventa: Caminho (1997), Tempo de espera (1997), De dentro para fora (1997), Nascimento do mundo na cabeça de um artista (1999), O dever da memória (1999), Tudo o que é sólido se desfaz no espaço (1999) de volta ao futuro (2002), Cursor (2005), são exemplos disso.
De dentro para fora, evoca precisamente o percurso da imaginação desde o interior do seu lugar original, de onde após um período de gestação, alimentada por componentes nutritivos (memórias) alojados nas paredes desse espaço cerrado, é transferida para um mundo exterior: a pintura.
Os ambientes escuros habitados por formas tentaculares de cores estridentes que progressivamente se movem em várias direcções, que se contorcem e entrelaçam lentamente auto-reproduzindo-se, dão lugar, a paisagens enigmáticas que flutuam numa atmosfera de sonho.
Nestas, por entre troncos frondosos, surgem por vezes inesperadamente estruturas arquitectónicas fantásticas que se impõem como centro gravitacional, dominando o desenvolvimento de toda a composição.
Contrariamente às experiências anteriores, em que as paisagens criadas envolviam o espectador, agora, o observador assiste de longe, como que a partir de uma outra dimensão, às ténues variações que vão ocorrendo nas paisagens ao longo do tempo, de um tempo que não é o seu.
O fundo negro dissipa-se e as sombras são expulsas por uma luz branca que irrompe vinda de várias direcções. Esta torna-se ainda mais intensa através dos reflexos produzidos por mantos de não cor que pontualmente cobrem algumas das paisagens – folhas de viagem – “escritos” de jornadas solitárias por terras desconhecidas. Por entre os registos, surgem fragmentos de visões de eras remotas, que revelam ambientes gélidos e suspensos, onde misteriosamente se gerou vida. Nestes, é a circulação vibrante da seiva que quebra o silêncio dominante.
Caminhando para as profundezas da mente humana, em… de subterrâneo somos confrontados por poderosas verticais que se duplicam ilusoriamente de forma simétrica a partir de eixos horizontais que atravessam construções de cores metálicas, as quais actuam como solo fértil, dando vida aos elementos orgânicos.
Uma galeria misteriosa é desvendada pela abertura de uma membrana tecida por espécies vegetais, no seu interior qualquer tentativa de orientação é uma investida em vão. O espaço labiríntico multiplica-se incessantemente, despertando sensações ambíguas, por um lado, o desejo de encontrar algo, a atracção pelo vertiginoso, por outro, a sensação claustrofóbica que desencadeia uma necessidade de fuga para o exterior.
Todos estes ambientes têm em comum o crescimento da vegetação como metáfora da imaginação incontrolável, que fluí alimentada por relações e combinações mais ou menos irracionais de memórias de outras vidas.
A pintura para Inez Teixeira, como o demonstra De Dentro para Fora, é uma extensão da memória e da imaginação, tal como o livro o era para Jorge Luís Borges , e como a própria afirma, é uma ferramenta a partir da qual torna “visível aquilo que não poderia ser de outra forma” .
Mariana Roquette Teixeira


